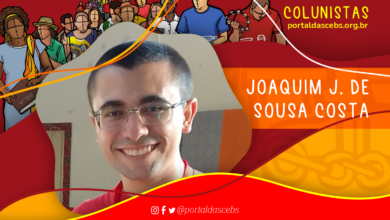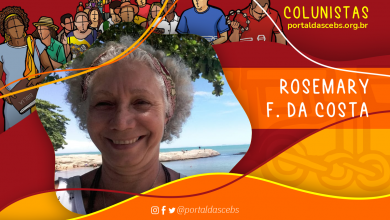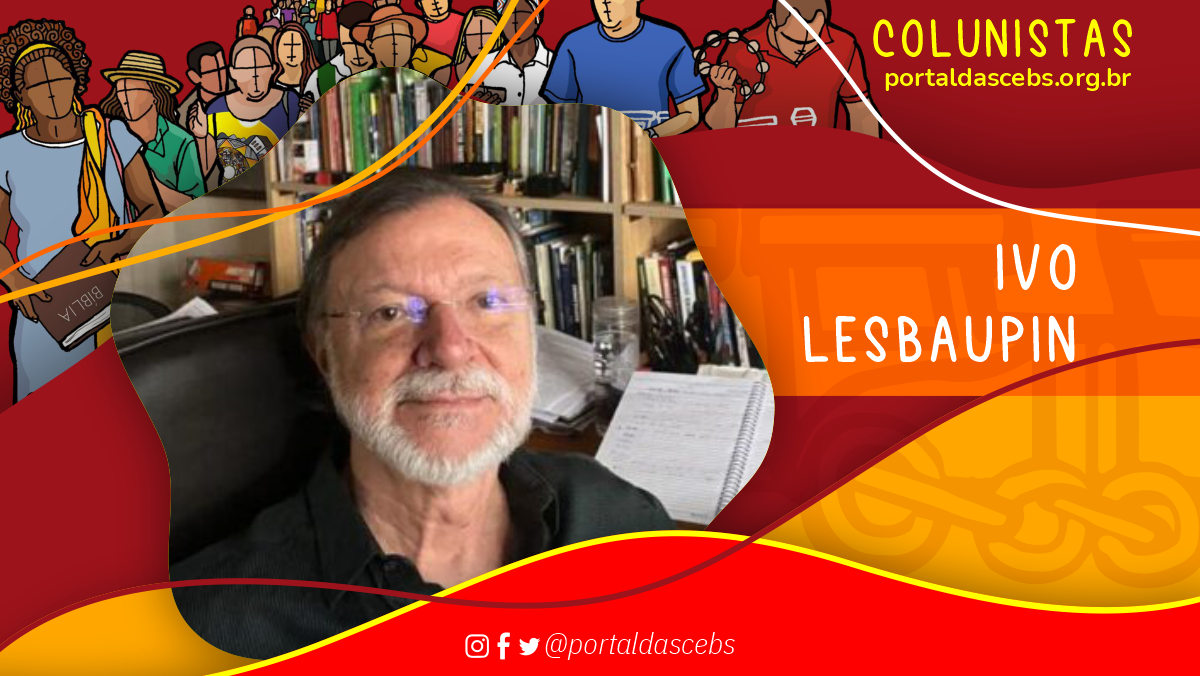
Assisti há poucos dias ao Roda Viva com Luís Moreno Ocampo, procurador adjunto no processo contra as juntas militares da ditadura argentina de 1976 a 1983 – disponível no youtube. A entrevista remete constantemente ao filme “Argentina 1985” (Amazon Prime), com Ricardo Darin no papel de procurador geral no referido processo. Há inúmeras reflexões interessantes de Ocampo no decorrer de sua fala, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma especialmente.
Ocampo observou que, até aquele processo, em 1985, a maioria da população argentina não sabia que a ditadura tinha sido sanguinária. A maioria achava, como aqui, que os militares tinham perseguido os militantes da guerrilha e tinham conseguido acabar com a ameaça “comunista”. O processo durou cinco meses. As pessoas só souberam o que efetivamente se passava nos “porões” (e nos aviões) pelos depoimentos dados, onde a tortura era onipresente e a morte, também (calcula-se que houve 30 mil mortos e desaparecidos). O filme – e a entrevista igualmente – mostra a mudança de posicionamento da mãe de Ocampo, que era de família militar e discordava da investigação que o filho levava à frente. À medida que os testemunhos vão se desenrolando, ela muda de posição, percebe o grau de desumanidade presente na ditadura, que foi muito além de perseguir “comunistas”: o objetivo era barbarizar e matar, desde militantes de esquerda até qualquer estudante crítico à ditadura ou aos militares.
O presidente eleito da Argentina após o fim da ditadura, Raúl Alfonsín, estabeleceu, em fins de 1983, uma das primeiras comissões da verdade do mundo: a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas (CONADEP). O relatório final, Nunca Más, que foi entregue em fins de 1984, criou um clima favorável à investigação. Falava da existência de centros de tortura nos quartéis. Durante o processo foram aparecendo testemunhos impressionantes.
Os entrevistadores perguntaram ao procurador, de diferentes formas, como seria possível fazer os militares brasileiros seguirem as leis, se submeterem ao poder civil, como deve ser numa democracia. Ocampo comentou que não conhece suficientemente o caso do Brasil, mas insistiu que devemos investigar a fundo os acontecimentos do 8 de janeiro. É preciso, disse ele, que se descubra quem planejou, quem incentivou, quem financiou, quem recrutou, além de quem executou os atos golpistas daquele dia. Há militares que tiveram papel ativo para que estes atos fossem realizados. Também precisam ser investigados, precisam ser responsabilizados. É preciso ir a fundo neste processo. Sem anistia. E fez outra recomendação: façam filmes, séries, minisséries. Muitas pessoas ficam sabendo das coisas por estes meios.
No Brasil, a ideia que a maioria da sociedade faz sobre a ditadura empresarial-militar é que o governo era bom, colocou ordem na vida social, trouxe progresso, não havia corrupção, havia segurança pública. As pessoas não sabem que os militares suspenderam os direitos individuais, que qualquer um poderia ser preso por suspeita de subversão (isto é, ser crítico ao regime militar), que, a partir do AI-5 (Ato Institucional no. 5, de 13 de dezembro de 1968), qualquer pessoa podia ser presa, interrogada e torturada. Que 500 mil cidadãos e cidadãs foram investigados pelos órgãos de segurança, 50 mil foram presos nos quatro primeiros meses do golpe de 1964. Que, só em São Paulo, 10 mil foram torturados no DOI-CODI. Que a tortura se tornou o método habitual de interrogatório policial. Que muitos foram mortos sob tortura. Que houve crianças torturadas na frente dos pais ou que foram levadas para assistir à tortura dos pais. Que se desconhecem os inúmeros fatos de corrupção porque as denúncias não puderam vir a público e não foram investigadas.
No caso do Brasil, somente 30 anos depois, houve investigação, pela Comissão Nacional da Verdade (2012-2014). Porém, a Comissão teve apenas dois anos para trabalhar e não teve acesso a parte dos documentos, porque foram negados pelos militares. O relatório final da Comissão veio a público em dezembro de 2014. Mas os torturadores destes 21 anos de ditadura não foram julgados. Os que lutaram contra a ditadura e aqueles que eram críticos ao regime foram perseguidos, alguns se exilaram, os demais foram presos, torturados – vários foram mortos ou estão desaparecidos. E todos foram julgados.
O regime militar fez aprovar uma lei de anistia em 1979, que concedia anistia aos exilados políticos, mas também autoanistiava os torturadores e os mandantes das torturas. Ficaram impunes. Com a volta da democracia, esta cláusula deveria ter sido anulada. No entanto, em julgamento de 2010, o STF decidiu, por maioria, que a lei continuava integralmente válida. E o recurso até hoje não foi julgado.
O Brasil é signatário de vários documentos da ONU segundo os quais a tortura é um crime imprescritível, portanto, sem anistia possível. A Argentina e o Chile, por exemplo, que também tiveram suas ditaduras, tiveram processos contra os torturadores e seus mandantes. Lá, a verdade pôde ser trazida à tona e estabelecidas as responsabilidades.
Vivemos, pois, esta contradição: enquanto os torturadores nazistas são procurados por seus malfeitos até hoje (lembrando que a guerra terminou em 1945), os do Brasil (1964-1985) são legalmente protegidos. O que aumenta a gravidade desta impunidade é o apagamento da memória e a persistência da injustiça: a história da sociedade brasileira tem um “buraco”, um vácuo, que é o papel exercido pelos militares durante duas décadas. Se não se reconstrói a memória deste período, é como se tivesse sido um mar de tranquilidade, já que o mal que foi feito não pode ser conhecido nem investigado. As gerações seguintes – e já se vão quase 40 anos – desconhecem os porões, as perseguições, a destruição de vidas e de reputações, a destruição da democracia, do direito de um povo a escolher o seu destino. Supostamente, querer saber o que ocorreu é “revanchismo” contra os militares. Não: é o direito de não esquecer, é o direito à memória e à justiça. Não se faz história, não se constrói o futuro, sem a memória do passado, porque o risco é repetir os erros já cometidos. Falando sobre o perdão e o direito à memória, o Papa Francisco, com sua sabedoria, nos adverte: “Em todo o caso, o que nunca se deve propor é o esquecimento” (Fratelli Tutti, par. 246).